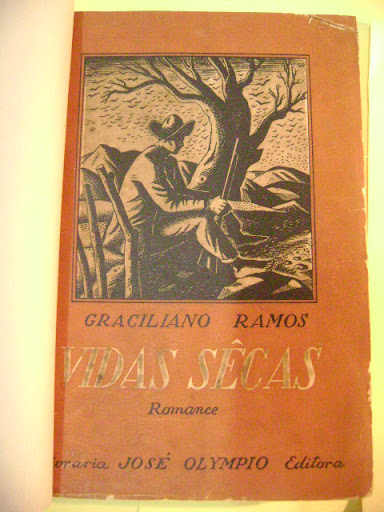_________________
SEMANARIO - A MAÇÃ

A Maçã - Semanario Ilustrado. Raríssima revista com belas capas. Criada em
1922 pelo escritor Humberto de Campos - Conselheiro XX.

A Maçã era
altamente criticada pelos intelectuais da época e adorada pelo público
masculino. Ilustrada pelos melhores profissionais, tinha caráter
satírico e picante. Em dezembro de 1923 passou a ser diagramada pelas
mãos do paraguaio Andres Guevara, que trouxe mudanças a revista e
enriquecendo o projeto. Foi editada entre entre 1922 a 1928.
__________________________________________________
Discurso de Posse na Acadêmia Brasileira de Letras

SENHOR Presidente,
Senhores Acadêmicos,
Referem as crônicas do reinado de Luís XI que Nicolau Paulino,
cancelário de Borgonha, após uma avaliação conscienciosa dos seus
haveres em prata, e ouro, e terras, deliberou instituir um hospital para
os pobres. Informado desta resolução, o soberano, que o sabia
impenitente na cobrança dos impostos, na perseguição aos devedores mais
humildes, aos foreiros mais necessitados, comentou cristãmente:
– É justo que, quem fez muitos pobres, edifique uma casa, para os amparar e recolher.
A vossa Academia foi, – consenti que vo-lo diga, – o meu cancelário
de Borgonha. Oriundo de uma família de comerciantes, aos quais a fortuna
tem sido propícia, eu me desgarrei do meu rebanho no crepúsculo
matutino da vida, à passagem de um dos vossos pastores. Foi há vinte
anos, quando o vosso confrade Sr. Coelho Neto andou, como Francisco
Xavier nas Índias, a espalhar, entre bárbaros, a árvore da Beleza
imperecível, com a semente de ouro do seu verbo. À passagem do
taumaturgo, agrupavam-se os discípulos, revelavam-se os apóstolos,
surgiam os iniciados. As marcas das suas sandálias eram novos canteiros
no areial. As dunas do Ceará, o sertão maranhense, a floresta amazônica
deficientemente desbravada, ouvindo o seu Evangelho, palpitaram,
prevendo o prodígio. Do ventre do Saara saía um mundo novo. Era o
milagre da Palavra fecundando o Deserto.
Ao barulho das multidões que o seguiam, vitoriando-o, aclamando-o, eu
me ergui, de longe, nas pontas dos pés, para ver-lhe a passagem. Não o
vi. Beijei, porém, a areia do seu caminho e não me saiu mais do
pensamento infantil o rumoroso espetáculo da sua glória.
Aos dezesseis anos, tomando, por intuição, o meu bordão de solitário,
saí a percorrer, como os monges infantes, os lugares que ele
santificara com a sua peregrinação. Florestas, praias, cidades, sertões,
eu tudo visitei, acompanhando na terra úmida, sempre veneradas, as suas
pegadas indeléveis. Andei. Vaguei. Peregrinei. E vim, perdido nos
Alpes, bater à porta do vosso mosteiro de São Bernardo. Era meu direito
procurá-la. Era vosso dever, e da vossa piedade, abri-la. Fizestes de
mim, pelo prestígio de um dos vossos companheiros, um sonhador, um
egresso da fortuna, um rebelde às vantagens da vida utilitária. E manda o
Código do Trabalho, em artigo generoso, que o operário seja amparado,
na sua desgraça, pelo capitalista que o inutilizou.
A Cadeira que me designastes está, ainda, entre dois esquifes, que
reclamam, no vosso templo, a minha oração: Emílio de Menezes, a quem me
destes por sucessor; e Salvador de Mendonça, a quem me prestarei,
oportunamente, e mais longamente, o culto da minha saudade.
Seria inexplicável, entretanto, que eu, de passagem, não deixasse uma
flor, sequer, a quem penetrou a vida entre espinhos, e dela saiu entre
rosas.
Salvador de Mendonça avulta, ainda agora, na minha imaginação, com a
suave poesia de certas legendas medievais. Uma tarde, há sete anos,
retirava-me eu de uma redação de jornal, quando cruzei, na escada, com
um ancião de rosto erguido e olhos vidrados, que subia, com a mão
esquerda sobre o ombro de um moço, e tateando, com a direita, a madeira
do balaústre. Aquela fisionomia de estatuária grega era-me familiar. Eu
tinha visto, já, em alguma parte, aquele rosto pálido, ornado daquela
barba cuidada, quase alva, cortada em ponta. Em que busto de Homero ou
de Édipo me haveriam mostrado aqueles olhos apagados? Em que mármore de
Lisipo eu teria descoberto aquele brando sorriso de Sócrates, em que se
misturavam, completando-se, doçura e severidade? Voltei sobre os meus
passos e contemplei o ancião. Era Salvador de Mendonça, que, glorioso e
cego, ia levar à folha, naquele dia, as suas reminiscências.
Nada me patenteia tanto a fragilidade humana como a presença dolorosa
de um cego. A contemplação de Homero ou de Milton enche-me de pavor.
Diante deles, apontando-os, eu vejo a Natureza, que me diz: “Homem
fútil, verme triste da terra, vê, agora, o que és tu! O planeta, dizes, é
teu. É teu o que te rodeia. Inventas aparelhos atrevidos para sondar o
mistério dos mundos. Sobes às nuvens. Cortas os montes. Desces ao fundo
do mar. Entretanto, vê: basta que eu te sopre aos olhos um grão de areia
para que te sintas solitário no universo!”
Se o Homem nasceu, realmente, para a contemplação e a posse da
Natureza, por que ela não o fez como as pedras preciosas, que refletem o
sol por todas as faces? Por que Ela, tão pródiga, só concedeu à alma,
para espiá-la e namorá-la, as delicadas janelas dos olhos?
A Natureza dirá, talvez: “Homem, se, vendo-me tão pouco, tanto me
desejas e afliges, que seria de mim se teus olhos tivessem, na terra, o
tamanho do teu coração!”
Salvador soube, porém, consolar-se da sua cegueira: vivia de recordações e de rosas.
Dentro da sua treva ele criara um mundo novo: plantou um jardim,
adotou, ao lado das filhas, uma família de roseiras, e fez, de umas e
outras, na glória da sua velhice, o consolo da sua cegueira.
O crepúsculo desta nobre vida, esmorecendo num rosal, tem a doçura
religiosa de um grande quadro pagão. Cego e velho, este Anacreonte
honesto abandonou a orgia tumultuosa do mundo, e as rosas o recolheram. E
ele as apertava, ainda, nas mãos geladas, quando ressoaram os punhados
de terra, graves, profundos, soturnos, sobre as tábuas do seu caixão...
Há uma face da sociedade brasileira que vem reclamando, de há muito, o
cuidado dos historiadores. É a que se compõe de figuras brilhantes e
curiosas, que se não fazem preceder de nenhum anúncio, que prometa o
milagre. São árvores fortes e altas, que espantam o céu, agasalham os
pássaros, mas de que a selva, em geral, desconhece a semente. São os
homens que nascem de si mesmos, sem família notável, sem avós ilustres,
sem antepassados gloriosos, e que formam, na vida intensa, a democracia
dos salões, da política, das letras e das finanças. No Exército social,
eles são os generais de caserna que conquistaram os postos sob a
fuzilaria, e que compraram com o próprio sangue, nos campos de batalha,
aquilo que é obtido por outros, facilmente, pela simples casualidade do
nascimento. Como a generalidade dos heróis, eles começam nas fileiras,
na promiscuidade dos quartéis, no tumulto da multidão. Há, entretanto,
nestes privilegiados, uma força que os impele para a claridade,
desagregando-os do meio em que tiveram origem. São elementos que se
individualizam, gotas de azeite que sobem à tona, bolhas de ar que se
elevam do leito dos rios, atravessam a água e se aliam, em cima, à
espuma que passa... No conjunto da sociedade, eles trazem no orgulho, no
desassombro, na rebeldia e, não raro, na brutalidade das maneiras, o
estigma da procedência. A aristocracia odeia-os, mas tem de recebê-los,
de aplaudi-los, de suportá-los. São os intrusos, que se impõem, e que
constituem, geralmente, a fachada de ouro, sempre renovada, do edifício
social.
Emílio de Menezes foi um desses combatentes que se impuseram, em um
meio propício, com a clava da sua coragem. Descendente de um casal
pobre, que desabrochou em oito mulheres e um homem, que era ele, sentiu o
futuro poeta, muito cedo, a necessidade de abandonar Curitiba, sua
cidade natal. Um dia, uma das irmãs casou com um farmacêutico da
capital, e o cunhado, no propósito de auxiliar a família a que se
aliara, admitiu como empregado de balcão, na sua farmácia, o único
rebento masculino daquele ramo curitibano.
Emílio de Menezes, que andava, então, pelos quatorze anos, era um
rapazola comprido, esguio, e de poucas letras. Os seus conhecimentos
eram todos primários, bastantes, entretanto, para que ele não errasse na
manipulação das receitas, nem confundisse, no comércio miúdo, as raízes
medicinais. O “Chernoviz”, com as suas estampas instrutivas,
merecia-lhe cuidados afetuosos, despertando-lhe um religioso interesse
pelas plantas, pelos animais que se sacrificavam em benefício do homem,
pelo conjunto, enfim, dos fenômenos e cousas da Natureza. Foi nesse
ambiente, com certeza, no convívio do ácido prússico, da macélia, da
nux-vômica, da genciana e da centáurea menor, que o seu espírito
desabrochante se impregnou do amargo violento e dos princípios
corrosivos que o haviam de particularizar, mais tarde, sobre a terra. O
convívio dos venenos havia de, fatalmente, envenenar-lhe a ironia.
Aos dezoito anos, influenciado pelo movimento literário a que dava
início o entusiasmo de Rocha Pombo, Emílio de Menezes constituía, pela
originalidade da sua figura e dos seus hábitos, uma das curiosidades de
Curitiba. As suas roupas, feitas sob as recomendações diretas do seu
capricho, traduziam-lhe a esquisitice do gênio, a bizarria das maneiras,
a singularidade da imaginação. A calça, larga e comprida, escorria-lhe
pelas pernas finas de cegonha humana, repousando em botas enormes, de
cores extravagantes. O paletó, frouxo, de comprimento incomum,
descia-lhe pela ossatura delgada, com abundância de fazendas e de
medidas. A gravata, em borboleta, era um escândalo, que o chapéu de
feltro, de abas largas, aplaudia e completava. Possuía poucos amigos,
repudiava as orgias, e raramente era visto entre rapazes joviais, mesmo
quando se reuniam, de semana em semana, para a missa do seu ideal.
Estes, entretanto, o respeitavam e queriam, pela novidade da sua
palestra, entrecortada, sempre, de vivacidade maligna, ferina,
escandalizante.
Um dia, fatigado da província, onde se indispusera com a maior
parte da capital, chegou Emílio de Menezes a Paranaguá, fugindo aos seus
conterrâneos. Amigos, pertencentes ao cenáculo de Curitiba,
arranjaram-lhe dinheiro para uma passagem, e, com este, algumas cartas
de recomendação amistosa. E é com estas, portadoras de esperança, que o
vamos encontrar no Rio, quinze dias depois, relacionado, já, nas rodas
de imprensa, por intermédio de alguns paranaenses generosos.
Uma das recomendações que trazia, era para o professor Coruja, e
dera-lha Nestor Vítor. O destinatário da carta, liberal, afável,
gentilíssimo com os rapazes de letras que o procuravam, estendeu a mão
ao moço provinciano, abriu-lhe as portas do lar, franqueou-lhe a mesa, o
coração, a intimidade. E, um ano depois, casava-se Emílio de Menezes
com uma das filhas do seu hospedeiro, em companhia da qual saltava, em
1890, de regresso, em Curitiba, como funcionário federal, encarregado,
ali, do recenseamento da população.
Tornando ao Rio de Janeiro, onde a Fortuna o esperava, começou para o
boêmio do Paraná um período de prosperidade. Era na orgia financeira do
Encilhamento. A falsa riqueza desafiava o apetite dos homens,
derramando-lhes aos pés, pródiga, o ouro mentiroso da sua cornucópia de
papelão. Emílio, valendo-se de amizades opulentas, obteve capitais e
entrou a realizar, na Bolsa, especulações aventurosas. Foi feliz. O ouro
enchia-lhe as algibeiras, e passava, das suas, para a dos boêmios
necessitados. Morava, então, na Rua da Luz, em uma casa que se tornou,
pela sua prodigalidade, a hospedaria dos amigos. À sua mesa, de
proporções invulgares, sentavam-se capitalistas e poetas. Da
imprevidência da cigarra laboriosa, viviam, então, cigarras e formigas.
Tomou o paladar à opulência, à vida suntuária dos banqueiros, aos
hábitos aristocráticos da nova fidalguia republicana. Comprava móveis
antigos objetos caros, preciosidades de gosto e de custo. Possuía um
carro de luxo, onde se acomodava elegante com as suas roupas
irrepreensíveis, o seu feltro de Mosqueteiro e os seus
plastrons
extravagantes, em que brilhava, sempre, uma pedra de preço. Começou a
engordar. A prosperidade econômica fizera-se acompanhar da prosperidade
das banhas. E quando a primeira fugiu, a segunda, mais leal, mais
persistente, mais firme, não abandonou o boêmio. Ficou pobre, mas estava
gordo.
Dessa feição do poeta, vós, todos, estais lembrados. A impressão que
ele nos dava, nos seus tempos de saúde física, era a de um gigante
feliz. A cabeça leonina, ampla, formosa, evocava os dias longínquos da
terra em que a bondade era sócia inseparável da fortaleza. A face
redonda e corada; a fronte larga; os olhos claros, grandes e doces; o
bigode vasto e alourado, reduzindo as proporções da boca forte, de
dentes sólidos, davam ao rosto de Emílio de Menezes o aspecto de um
gigante de legenda árabe, arrancado pela civilização mais polida às
entranhas salitrosas do mar. O corpo enorme, de um Cristóvão descido da
montanha para as tentações boêmias da cidade, formava, com a sua máscara
poderosa, um espetáculo de singeleza, de graça e de força, que nos
fazia recordar, à primeira vista, a infância ingênua da humanidade.
Houve quem o comparasse, um dia, a Benvenuto Cellini. A comparação é
acertada. Emílio de Menezes era, em verdade, como o divino bárbaro de
Florença, um misto de atleta e de santo de simplicidade e de insolência,
de ductilidade e selvageria. Colocado nos umbrais da Renascença,
Cellini resumiu, em si mesmo, todo o esplendor e toda a treva de duas
idades contraditórias. Rústico e genial, residiam, nele, a um mesmo
tempo, a mansidão e a arrogância, a glória e a brutalidade, as
delicadezas da intuição artística e os defeitos do instinto irrefreável.
As suas Memórias são, hoje, a própria história do Renascimento. A mão
que feria, que assassinava, que era o pesadelo dos príncipes, o espanto
dos mercadores, o pavor dos lacaios, era a mesma que, instantes depois,
se firmava, leve, sobre o ouro, fixando maravilhas espantosas e
comoventes, pelo mimo, pelo apuro, pela gracilidade, na curva ressoante
das taças e na peanha fulgente dos relicários!
Na arte e na pessoa de Emílio, havia, também, esse amálgama de
meiguice e brutidão. Agressivo e generoso, irreverente e compadecido,
ele era, ao mesmo tempo, leão e cordeiro. Os seus amigos tornavam-se,
para ele, inatacáveis: eram diamantes sem jaça, almas sem pecado,
pérolas sem defeito. Os seus inimigos não tinham virtudes: eram arvoredo
sem fruto, espinheiros sem flor, terreno sem cultura, sem préstimo, sem
utilidade. Havia nele, alternadamente, a humildade e a irreverência.
Lisonjeava ou feria. A sua espada era de pluma ou de aço. Tudo dependia,
nos combates, do alvo e da ocasião.
O seu gênio estava, entretanto, no brilho do ataque aos adversários. A
sua língua, que teria sido servida pela sabedoria de Esopo no segundo
almoço de Xanto, não respeitava, então, nem homens, nem santos, nem
deuses. A maledicência transformava-se, nesses momentos, para ele, numa
arte elegante e sagrada, de que se tornava o mais meticuloso dos
sacerdotes. Utilizava a malícia, a sátira, a palavra ferina, com a
graça, a volúpia, a perversidade galantes com que em Florença se
utilizava o veneno. A sua imaginação, de uma fertilidade americana e de
uma riqueza oriental, era, nesse particular, um jardim amavioso e
encantado, onde colhia, a todo instante, para os desafetos, cavalheiros
ou senhoras, flores de perfídia que entonteciam e envenenavam. As rosas
da sua galanteria tinham caule de estilete. Homicida pela palavra, a sua
estátua, quando ele a tiver, deve trazer nas mãos, como a de Harmódio
em Atenas, um punhal e um ramalhete. À semelhança daqueles rajás
indianos que matavam os prisioneiros dando-lhes o pó dos seus diamantes,
ele misturava, nas suas vinganças, aos manjares da palestra, a
faiscante pedraria do seu espírito. As cadeias de vocábulos com que
inutilizava os adversários eram daquelas com que Alexandre algemou Dario
derrotado: ensangüentavam os pulsos, mas eram de ouro.
A geração contemporânea de Emílio de Menezes, que é ainda a nossa,
considerava-o o maior dos seus humoristas. Eu não sei de quem o fosse
menos neste país, e contesto-lhe o título com os mesmos fundamentos que
levaram Paul Stapfer a recusá-lo a Voltaire, condenando-o, entretanto, à
gravidade majestosa de Shakespeare.
No seu estudo, que eu reputo completíssimo, de Machado Assis, Alcides Maya resume a opinião universal sobre o
humour. “O
humour
– diz ele – é revolta, melancolia, piedade: fora apenas revolta, e não
se exprimiria em forma artística, embora irregular; mas também é sombra
de alma, humanidade que se não resignou de todo, que ainda sonha, ainda
solidária... Brinca de morte com as suas criações; destrói e abate com a
coragem negativa de um suicídio executado a rir; sobre a ruinaria que
espalha, eleva, como em terra folgada, a pura animalidade; porém ao
fundo, bem ao fundo das páginas afeleadas, lá está o ideal, fonte de
justiça, de amor e de simpatia.” E em outra parte: “O humorista é um
forte bom, vencido, mas sobranceiro à derrota, e na atitude que assume,
não de orgulho puro, e sim de altivez dolorosa, há, anulando o despeito
pessoal, uma certeza superior das contingências terrenas.”
É essa a legítima interpretação do
humour, tomado nas suas
correntes originárias. Filho pródigo da Compaixão e do Tédio, o
humorista é, entre os homens de arte, o único, no planeta, que não tem
leito nem pátria. Se quer chorar, os outros sorriem. Se ele sorri, os
outros choram. As suas gargalhadas são lavadas de lágrimas e o seu
soluço, quando o emite, vem à boca, doloroso, através de um sorriso Não
odeia, nem ama. Os extremos do sentimento são-lhe desconhecidos, porque
só ele se não ilude, crente, na terra, com as nuvens mentirosas do
horizonte. Uma grande piedade triste enche-lhe o abismo do coração.
Quando o rodeiam os pigmeus, ele olha para si mesmo, e sorri. E quando o
assaltasse, por acaso, a vaidade da sua estatura, exaltada pelo
conhecimento da própria fragilidade, ele olharia, para humilhar-se, o
espetáculo das montanhas circunjacentes.
Colocado sem bússola, como todas as criaturas, no deserto da vida, o
seu sono é vazio de sonhos, porque ele é o único, na caravana, que dorme
sem esperança. Diverte-se com os homens como os deuses se divertiriam
com ele. Individualizando-o, ele é o contraste, exato, daquele Luís
Garcia, de Machado de Assis, que amava a espécie e aborrecia o
indivíduo: o humorista consola o indivíduo e, porque a ela pertence,
zomba da espécie. Se a vida fosse um templo, como o de Dagon, ele lhe
abalaria as colunas, sepultando-se nos seus escombros com a grande massa
dos filisteus.
Como artista, o “humorista” faz lembrar um homem de outro planeta que
tivesse, de repente, aportado ao nosso, e que, no desconhecimento
absoluto das nossas convenções e costumes, se pusesse, sem consulta, e
aconselhado apenas pelo seu capricho, a fazer uso dos nossos objetos
comuns.
Indiferente aos valores morais e artísticos, às fórmulas tradicionais
e consagradas, a sua originalidade provém, exatamente, do conflito dos
seus processos com a generalidade dos processos habituais. A moeda de
ouro e o punhado de lama têm, entre os seus dedos, como arte e como
moral, o mesmo padrão. Os homens e as cousas, para ele, não têm nome.
Ele é o Supremo Sacerdote que lhes ministra o batismo, e que lhes dá um
lugar provisório na criação, independente das origens. E como a sua
justiça é, aparentemente, arbitrária, nasce, do choque do seu capricho
com as convenções estabelecidas, o mérito da singularidade.
Definindo o humorismo como arte, diz Paul Stapfer, com humorística
propriedade, que o humorista amarra um ramalhete de penas de pavão na
cauda de um porco. O humorismo, como forma, nasce, realmente, do vago
escândalo dos contrastes. O escritor que recuasse na imolação de uma
página genial no altar de uma pilhéria comum, não seria um humorista.
Este não desbarata, porque ele recusa valor à sua fortuna. Abraão, aí,
jamais recua no sacrifício de Isaac, porque os pais, nessas montanhas,
não reconhecem os filhos...
O que havia em Emílio de Menezes era o satírico; satírico à maneira
de Horácio, de Marcial, de Lucílio, de Pérsio e, sobretudo, de Juvenal.
Quintiliano atribui à sátira uma origem puramente romana.
Satira tota nostra est. E Horácio, que a perfilhou, concede a legítima paternidade a Lucílio.
A sátira, modalidade combativa, só podia nascer – di-lo um
historiador – de um povo belicoso. Ela é uma arma como a espada, como a
lança, como a flecha, como os mais perigosos instrumentos de guerra. A
civilização grega, que deu Aristófanes, não suportaria a brutalidade de
Marcial. As asas de ouro do espírito ateniense tombariam, rotas, ao peso
de uma sentença de Horácio. O gênio latino, que levantou o Coliseu,
enchendo-o de feras, estava mais apto à criação de um gênero literário
que se podia transformar, de súbito, em espetáculo sanguinolento.
Entre o humorista e o satírico aprofunda-se um fosso insoterrável. O
humorista zomba do mundo, e de si mesmo. São-lhe defesos a lisonja, o
louvor, o elogio individual. O satírico zomba do homem, selecionando os
indivíduos, e pode ser lisonjeiro, áulico, palaciano. Juvenal faz o
panegírico de Catulo e respeita a austeridade de Adriano. Rabelais, o
“patriarca do humorismo”, não encontrou um antídoto humano para o
“ridículo de Pantagruel”. Examinando o trigal, o satírico escolhe as
espigas, separando-as. O humorista amaldiçoa, ou abençoa, a seara, no
seu conjunto; o pão do primeiro é feito com joio. O segundo tritura,
para o seu pão, o joio e o trigo.
Exercida genialmente, como o foi por Juvenal, a sátira pode ser, na
família ameaçada, a sentinela da virtude. Denunciando o vício atrevido,
amedrontando o crime insolente, assinalando, rápido, com um traço de
fogo, as feridas de caráter onde elas mostrem os bordos, o satírico é um
dos elementos indispensáveis à disciplina dos instintos, dos costumes,
das instituições. A sátira é, mesmo, o freio de ouro das sociedades
desembestadas.
Sob esse aspecto, Emílio de Menezes foi, no seu tempo, incomparável. A
sua irreverência, cáustica, mordaz, dilacerante, encheu vinte anos de
vida carioca. Ninguém o ultrapassou no epigrama, na sátira, no dito
oportuno e pitoresco. A língua portuguesa não teve jamais, entre nós, de
um só homem tão copiosa contribuição de perversidade punidora, dentro
das possibilidades da raça. A fama da sua mordacidade foi tão dilatada,
que ele se queixava, nos últimos anos, – como sucede, aliás, a todos os
satíricos – da responsabilidade, que lhe atiravam, de todas as
irreverências que surgiam.
As flores da sua perversidade eram, entretanto, inconfundíveis. E
essa produção corre mundo, faiscante, ferina, fraccionada, como um
punhado de navalhas sem cabo, em que se deve pegar com cuidado. As suas
lâminas têm, quase, um destino previsto. As flechas deste soldado de
Anfípolis levavam endereço, geralmente, ao olho direito de Filipe. E vós
sabeis como ele as atirava à rua, entre os dedos anônimos da multidão.
Em uma roda de amigos, na Rua do Ouvidor, na Avenida, nas mesas da
confeitaria Pascoal ou da Colombo, a conversa recaía, extemporânea,
sobre um tipo ou sobre um fato. De repente, Emílio, que preferia ouvir a
contar, abria em forquilha o polegar e o indicador da mão esquerda,
sustentava com eles o bigode farto, e desatava a rir, num riso sacudido,
sem estrépito, que era, sempre, à perspicácia dos conhecidos, o anúncio
seguro de que a máquina terminara a manufatura de mais uma lâmina.
Certa vez, por exemplo, conversava-se de um escritor eminente,
notável, entre nós, pela variedade e abundância das suas manifestações
literárias.
– É um gênio – dizia alguém. – Ele faz versos, crônicas, romances,
contos, crítica literária; é jornalista, orador, político; enfim, trata
de tudo.
– Sim – atalhou Emílio; – mas é prédio da Avenida.
E como o apologista lhe pedisse o segredo da comparação, explicou:
– Muita frente, e pouco fundo!
Alguns dos nossos homens eminentes foram, por muito tempo, o objetivo
permanente da sua ironia. Eram uma espécie de alvo em que ele se
exercitava, acertando a mão ou, melhor, a língua, sempre que lhe
faltavam tipos novos, postos sob a sua pontaria pela fatalidade dos
acontecimentos. Entre esses mártires, havia um historiador ilustre,
sábio respeitadíssimo, em torno do qual se criara, injustamente, uma
lenda de desleixo, de abandono próprio, e, mesmo, de falta de higiene.
Utilizando essa versão popular, contava, então, o poeta:
– Uma vez, ele mandou à tinturaria, para ser lavado, um terno com que
andava há doze anos. Uma semana depois, aparece-lhe à porta um
empregado do tintureiro, e entrega-lhe um embrulho pequenino, que lhe
cabia na mão.
E como lhe perguntavam o que seria, Emílio concluía invariável:
– Eram os botões, menino! A roupa, de puída e velha, havia-se dissolvido na água.
Uma tarde, estava um de nós, eminente ironista, ao lado do poeta,
quando passou, perto, arrogante, um cavalheiro conhecido na cidade pela
sua aversão ao pagamento das dívidas. Ferido pela insolência do tipo,
Emílio voltou-se, rápido, para o companheiro, perguntando-lhe, à
queima-roupa.
– Em que se parece aquele sujeito com um botão?
O outro não atinou com a chave do enigma, e ele completou, perverso:
– É que ele também não paga a casa em que mora...
Um colecionador anônimo dos seus ditos excelentes registrou, dele, uma série copiosa de “maldades” do gênero.
Havia no Rio um jornalista de má fortuna, diretor de um periódico
oportunista, que claudicava de uma perna, aleijada por uma inchação
crônica, e que vivia, então, da exploração, mais ou menos inteligente,
da vaidade alheia. Uma tarde passava este homem de imprensa e de
negócios pela Rua do Ouvidor, arrastando, tardo, a perna enferma, quando
um íntimo de Emílio de Menezes lhe chamou a atenção:
– Admira – diz – como aquele homem, com o tamanho defeito, seja tão “cavador”...
– Pois a mim não me admira – contrapôs o poeta.
E voltando-se para o companheiro:
– Ele não tem uma perna “inchada”?
Há vinte anos, era famoso no Rio, pelos seus processos de adquirir
dinheiro, um boêmio cuja habilidade se tornou proverbial. A sua fórmula
para promover a elasticidade das bolsas era cômoda e comovente.
Chegava-se a um amigo, e lastimava-se:
– Veja só! Eu já tive uma fortuna regular, com os meus prédios, as
minhas apólices, a minha caderneta de Banco... E hoje, sou isto!
E após uma pausa:
– Você, que me viu tão feliz, não me poderá “passar” uma de cinco mil réis?
Comentando esse meio de vida, Emílio explicava:
– Coitado do Rocha! O que ele diz é verdade. Ele teve posição, casa, fortuna. Hoje, vive do “passado”...
Já enfermo, apoiando-se ao bengalão que sempre o acompanhava, ia o
poeta, uma tarde, pela Avenida, quando dele se acercou um dos parasitas
do seu conhecimento.
– Boa tarde, Emílio! Como vai a saúde?
– Vai indo. Mas, que é que desejas? Dize, que eu tenho pressa.
O parasita, gentil, maneiroso, aproximou-se do poeta, passou-lhe as
mãos pelo teclado de botões do fraque preto, sacudindo as partículas de
uma poeira imaginária. De repente, descobrindo-lhe na gola um fiapo
branco olvidado pela escova, tomou-o com os dedos, lançando-o, ao solo,
enquanto dava o assalto:
– Estou, Emílio, em um dos meus piores dias; arranja-me uns dez mil réis...
– Dez mil réis! – trovejou a vítima, recuando.
E apontando para gola do fraque:
– Põe já o fiapo aqui!
O seu orgulho esteve, sempre, aliado à sua mordacidade. Ninguém lhe
feria o brio de homem, mesmo a título de gracejo, sem sofrer,
prontamente, a represália. Pretendendo fazer espírito, um deputado
convidou-o para um aperitivo:
– Quero dar-te a honra da minha companhia... Vamos tomar alguma cousa...
E o poeta, com um sorriso de piedade:
– A honra? ... Obrigado, meu velho; você já está tão desfalcado...
As suas definições possuíam um cunho inconfundível, pelo pitoresco, pela novidade, pela graça imprevista.
Um dos seus amigos, o padre Severiano de Rezende, de regresso de
Paris, onde deixara a batina, surgiu, um dia, diante do poeta, à Rua
Gonçalves Dias, trajando jaquetão claro, chapéu de palha, flor à lapela,
mas tendo à mão, em conflito com aquela meia elegância, um guarda-chuva
de cabo torcido.
– Estás belo, padre, assim à paisana!
– Achas?
– De certo.
E olhando melhor:
– Agora, é só a bengala que traja à clerical.
– Que bengala? – estranhou o ex-sacerdote. – Isto é um guarda-sol...
E Emílio:
– Pois é isso mesmo; que é um guarda-sol senão uma bengala de batina?
De um funcionário do governo que se queixava de não receber os
vencimentos há seis meses, e que vivia na penúria, dizia ele,
penalizado:
– Coitado! Já tem teias de aranha no céu da boca!...
Em roda de literatos, um deles, discutindo poesia, procurou amesquinhar Machado de Assis, observando, leviano:
– Era um péssimo poeta. O último verso dos tercetos
A uma creatura tem onze sílabas; é um verso de pé quebrado!
Emílio, que nutria uma religiosa admiração pelo Mestre, franziu a testa profética, e protestou, soturno:
– Os bons versos não têm pés; têm asas!
As anedotas puramente anônimas de Emílio de Menezes, isto é, aquelas
que não visavam indivíduos, nem eram atualizadas com a intercalação de
nomes próprios, constituirão, no futuro, um dos mais finos cabedais do
repertório da língua.
Não há literatura mais rica, mais opulenta, do que essa de anedotas,
que circula pelo mundo nas páginas cosmopolitas dos almanaques. Lendo
esses repositórios, sobem a centenas, a milhares, os ditos, os
trocadilhos, as facécias que fariam honra aos espíritos mais
escrupulosos e agudos. Quem teria lançado, entretanto, à campina sem
dono, essas flores maravilhosas? Que mão misteriosa teria passado na
treva, semeando, no silêncio da noite, esse trigo de ouro, de que se
alimenta, sem susto, a alegria inocente do povo? Quem atirou ao oceano
esses punhados de pérolas, que vêm enfeitar, entre o espanto dos
pescadores que passam, o colo arfante das praias?
Emílio de Menezes foi um desses perdulários. A sua jovialidade era
uma água miraculosa que ele dava a beber a toda a gente, e que ainda lhe
extravasava das mãos. Essa água, pura e fresca, irá, mais tarde, como a
dos rios, perder-se no mar. Identifiquemo-la, entretanto, enquanto se
não dá de tudo a fusão da torrente no oceano.
Certa vez, ia o poeta em um bonde, quando se sentaram no banco
imediato, em frente, duas senhoras de grandes banhas, que dificilmente
puderam penetrar no veículo. Com o peso das duas matronas, o banco, que
era frágil, range, estala, geme, estranhando a carga. Emílio, que
observa o caso, leva a mão à boca no seu gesto característico, e põe-se a
rir em silêncio, no seu riso sacudido e interior. E como o companheiro o
olhasse, explicou:
– Sim, senhor! É a primeira vez que eu vejo um banco quebrar por excesso de fundos!...
E desatou a rir, de novo, sustentando o bigode nas mãos.
No discurso que Emílio de Menezes pretendia proferir à entrada desta
Casa, ele queixava-se, amargo, da deslealdade dos ironistas amigos, que
se apropriavam das penas zombeteiras com que fazia cócegas no nariz do
próximo, e que lhe atribuíam, ainda, em paga, o manejo da urtiga,
irritadora da pele.
No trabalho meticuloso em que Fabre reabilita a cigarra, malsinada
por La Fontaine, intérprete secular do despeito dos gregos, demonstra
esse entomologista a falsidade da tradição que atribui a este inseto,
filho do sol, o defeito da imprevidência. E no restabelecimento da
verdade, na reintegração dos seres na natureza e no conceito dos homens,
conta que a cigarra, nos dias de verão, se aproxima de um ramo tenro,
faz-lhe uma pequena cesura, e põe-se a sugar, tranqüila e honesta, a
seiva deliciosa da planta. Acossados pela canícula, sem uma gota de
orvalho no cálix das flores ou na taça verde das folhas, as formigas
correm, de longe, ao aviso da boêmia. E assiste-se, então, a esta cena
surpreendente: enquanto a cigarra canta, bebendo, saciando-se à custa da
própria tenacidade, as formigas dessedentam-se no líquido que ela
derrama, e, na disputa, mordem-na, maltratam-na, agridem-na, procurando
afugentá-la, para se apossarem do mel que lhe sobra!
Emílio foi no seu tempo, sob esse aspecto, a cigarra deste
formigueiro. Malsinado pelas formigas, que viveram da seiva que ele
arrancava, cantando, ainda encontrou, na morte, como a sua irmã de
Verão, a injustiça de La Fontaine!
O poeta, em Emílio de Menezes, era o imprevisto desdobramento do
homem. Ele recordava, nesse particular, certos rios secundários da
Amazônia, em que a superfície das águas não dá idéia do seu volume. Em
frente ao meu barracão de seringueiro, no Mapuá, no ponto em que essa
corrente se bifurca, apertando nas tenazes a bárbara virgindade da
selva, corria a unir-se ao outro o braço mais estreito do rio.
Debruçadas nas margens, as juçaras eram como braços femininos e
amorosos, oferecendo aos viajantes e às águas o verde ramalhete das suas
almas. Abertos em flores roxas, desciam, dia e noite, no rumo do mar,
as balsas de mururé, como coroas mortuárias tecidas pela saudade da
terra para o enterro do oceano. Ensombrando a correnteza, árvores de
toda ordem atiravam à água, enfeitando-lhe o manto, punhados de flores,
que deslizavam quietas, entre adeuses de insetos, na ignorância do seu
destino... Olhando aquele rio estreito e festivo, eu me supus hóspede de
um regato amável, que me mostrava, na sua quietude, nas suas balsas
floridas, na frescura permanente das águas, as intimidades do seu
coração. Um dia, fui sondá-lo: disfarçada por aquelas flores da
superfície, rolava para o Amazonas, rápida, silente, vertiginosa, uma
poderosa massa d’água que tinha, diante da minha casa, quarenta metros
de profundidade!
Emílio de Menezes era um desses abismos dissimulados. Sob a camada
risonha e clara da sua vida jovial, trovejava, grave, profundo, soturno,
o rio da sua inspiração poética!
A figura de Emílio tem, no seu tempo, sob esse aspecto, uma feição
singular. Tendo chegado tarde para participar do movimento literário
iniciado por Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia, e cedo
demais para aguardar em silêncio a fórmula e a companhia da geração que
viesse, Emílio deliberou constituir, sozinho, o seu apostolado poético.
Os muros de Jerusalém eram ressoantes de harpas amorosas quando se
ouviu, fora, na solidão do Deserto, o trovão de Isaías. Isolado, sem
discípulos, sem mestres, sem precursores nem seguidores, o novo profeta
era o oráculo de uma poesia nova, cuja música, de sons cavos, lúgubres,
intimidavam e embeveciam.
A arte de Emílio de Menezes não se parece, em verdade, com qualquer
outra da sua época. Se os gigantes cantassem, cantariam com aquela
sonoridade. Polifemo, chorando sangue e lágrimas pelo olho vazado, devia
ter, à beira do mar, o choro das suas blasfêmias. O seu verso, largo,
severo, musical, dá-nos na sua impassibilidade majestosa uma impressão
de oceano rolante. Os próprios estos do seu amor são austeros, sombrios,
de uma grande harmonia descompassada, como se subissem do fundo das
ondas. Se Adamastor, assentando no promontório tormentoso, soprasse a
sua saudade, entre os uivos das ondas, no côncavo de um búzio
tempestuoso, a sua voz não seria, talvez, mais grave e mais triste.
Ecoavam na sua boca, blasfemando ou gemendo, as vozes dos titães
soterrados. Os seus alexandrinos tinham, na gravidade da música, rebôos
de caverna:
Este leito, que é o meu, que é o teu, que é o nosso leito,
Onde este grande amor floriu, sincero e justo,
E unimos, ambos nós, o peito contra o peito,
Ambos cheios de anelo, ambos cheios de susto;
Este leito que aí está revolto assim, desfeito,
Onde humilde beijei teus pés, as mãos, o busto,
Na ausência do teu corpo a que ele estava afeito,
Mudou-se, para mim, num leito de Procusto!...
Louco e só! Desvairado!... A noite vai sem termo,
E, estendendo, lá fora, as sombras augurais,
Envolve a Natureza, e penetra o meu ermo.
E mal julgas, talvez, quando, acaso, te vais,
Quanto me punge e corta o coração enfermo
Este horrível temor de que não voltes mais!...
Neste soneto, instrumentado com a mesma harmonia larga, trovejam os mesmos ecos:
Tomba às vezes meu ser. De tropeço a tropeço,
Unidos, alma e corpo, ambos rolando vão.
É o abismo, e eu não sei si cresço ou si descreço,
À proporção do mal, do bem à proporção.
Sobe às vezes meu ser. De arremesso a arremesso,
Unidos, estro e pulso, ambos fogem ao chão,
E eu ora encaro a luz, ora à luz estremeço,
E não sei onde o mal e o bem me levarão.
Fim, qual deles será? Qual deles é começo?
Prêmio, qual deles é? Qual deles é expiação?
Por qual deles ventura ou castigo mereço?
Entre o perpétuo sim e ante o perpétuo não,
Do bem que sempre fiz, nunca busquei o preço,
Do mal que nunca fiz, sofro a condenação.
Infelizmente, essa feição artística, esse apego exagerado à música
dos vocábulos, que constituía a sua virtude, o segredo do seu renome nas
letras, foi, também, o veneno da sua glória. De imaginação pouco fértil
nesse terreno, e de coração mal encordoado para os dedos do sofrimento,
e, sobretudo, sem um patrimônio de cultura que lhe permitisse o
suprimento com o recurso das adaptações inteligentes, tinha ele de
apelar, necessariamente, para o artifício, para a espuma colorida, para
os efeitos do vocabulário, que substituem insuficientemente a idéia.
Quando o pensamento é pálido, recorre o artista à beleza da
orquestração, em que consegue, geralmente, resultados maravilhosos. Este
soneto, pertencente à última fase do poeta, constitui, na apoteose
sonora das palavras, um desses apelos felizes:
Aureolado da opala, o topázio, a ametista,
Que o sol ocíduo põe na agonia da tarde,
O monte, que, de légua, ou de léguas, se avista,
Do amplo juso à cimeira, em pedrarias, arde.
À suntuosa mudez não há olhar que resista,
Nem ao quieto esplendor quem se não acobarde,
Um silêncio de luz lhe vai da base à crista:
É o féretro da pompa, é o túmulo do alarde.
Em tal fulgurarão, translúcido, irradia,
E essa translucidez que é apenas ilusória,
Deixa ver que há um Além, além da fantasia.
Desce lenta, entretanto, a noite merencórea...
Queda-se a Natureza, amortalhada e fria,
Na saudosa visão de um momento de glória...
Em palestra, um dia, com Edmond de Goncourt, contou Heredia, sem
imediata aplicação do símbolo, um episódio que devia ter, então, alguma
relação com a sua poesia decorativa. Certo milionário extravagante,
espírito bizarro, dado a prazeres custosos e exóticos, ideara, certa
vez, a adaptação de uma figura viva às figuras mortas do seu tapete, e
comprou uma tartaruga. Ao chegar em casa notou que a carapaça do anfíbio
era rude, áspera, grosseira, e mandou que a polissem. Em seguida, para
que se tornasse em harmonia com a decoração suntuosa das tapeçarias,
levou-a a um dourador, que a dourou, e, finalmente, a um joalheiro, que
lhe incrustou no casco, com afetuosa perícia, um punhado de topázios de
preço. Assim adornada, a tartaruga passeou, ainda, dois dias, como um
mostruário errante, pelas alcatifas do salão; ao terceiro, porém,
sucumbiu, vítima dos artifícios.
Os sonetos de Emílio de Menezes não eram evidentemente meras
tartarugas poéticas, valorizadas para o palácio das letras pela
faiscante pedraria da concha. Quando assim sucedia, havia uma diferença:
é que a tartaruga morreu com a incrustação dos topázios, enquanto que,
nos sonetos de Emílio, os topázios, que matam alguns, dão, a outros, a
glória da imortalidade.
O conhecimento que possuía dos homens o meu antecessor nesta Cadeira,
fê-lo amigo dos irracionais. A casa onde viveu os últimos anos, e onde
morreu, na Aldeia Campista, era ressoante de guinchos, de uivos, de
miados, de cacarejos, de vozes que se confundiam e subiam ao céu, como
se tivesse encalhado na terra, entre árvores, a Arca de Noé. Galgos
afilados, angorás voluptuosos, galinhas pintalgadas; galos de cauda em
forma de trompa e crista em bico de serra, – eram, no lar, os seus
amigos, o seu mundo, o seu universo. Nas exposições caninas e avícolas,
era ele, sempre, um dos julgadores do concurso, com autoridade
incontrastável no assunto. E tão competente era, ou parecia, na
geografia física de tais províncias da Natureza, que toda a gente se
lembra, ainda, daquela galinha de cabeça de peru, com que ele concorreu,
há três anos, ao certame anual da Sociedade Nacional de Avicultura, nos
terrenos em que florescia, há quatro lustros, a suave santidade das
freiras da Ajuda.
Diante dos seus bichanos e dos seus “loulous”, Emílio tinha horror à
humanidade. Para ele, como para Henry Rabusson, o homem tem necessidade
da companhia do cão sempre que pretenda elevar-se na ordem dos
sentimentos. Ao contrário de Michelet, que os considerava candidatos à
humanidade, ele achava que o homem é que era, ainda, um simples
candidato aos sentimentos bons, puros, altos, generosos, que a sua
perspicácia descobria nos cães. Como Schopenhauer, Emílio acreditava,
ainda, que o homem só teve a noção da sinceridade, classificando-a, como
virtude, no dia em que domesticou o cachorro. E nesta simpatia pela
animalidade, criava gatos soberbos, galinhas magníficas, perus
explosivos e, sobretudo, cachorrões trovejantes, honestos, leais,
dedicados, que mandava negociar na cidade, a duzentos mil réis cada
um...
São estes os vultos gloriosos cuja herança acadêmica me foi destinada
nesta Casa: um, devoto das rosas, que identificava pelo perfume; outro,
amigo dos cães, que distinguia pelo ladrido. Pondo Emílio de Menezes os
cães acima dos homens, o seu espírito se revoltaria, talvez, no mundo
em que repousa, se eu evocasse, a propósito da sua memória, as outras
figuras da espécie. Parece-me preferível, pois, nesta despedida,
recordar, em uma imagem final, uma sabida anedota do seu agrado.
No cerco de Paris, em 1870, a fome atormentava a população. Os
cavalos foram comidos, um a um. Os gatos desapareceram dos telhados, os
cães desertaram as ruas, e os ratos, mesmo, foram caçados nos esgotos.
Por esse tempo, Charles Monselet, que então escrevia no
Figaro, correu às trincheiras, incorporando-se, com o seu “loulou”, o
Azor,
em um batalhão de voluntários. Durante vinte dias suportou Monselet
heroicamente o regímen do batalhão, comendo ratos e gatos, cujos ossos o
cão, depois, triturava nos dentes.
Um dia, faltaram os felinos e os roedores, e o jornalista resolveu um
sacrifício pérfido: comer o cachorro. À noite, em uma casa vizinha às
trincheiras, foi o cão abatido, esfolado, posto a ferver com especiarias
estimulantes, e transformado, por milagre de caçarola, no mais saboroso
dos guisados militares. Terminado o jantar, Monselet reuniu em um prato
os ossos da vítima e gemeu, enxugando os olhos:
– Pobre
Azor! Que jantar perdeste hoje!...
É esta, mais ou menos, agora, a exclamação que me cabe:
– Ah, Emílio! Que pilhérias me darias tu, neste momento, se estivesses presente a esta solenidade!